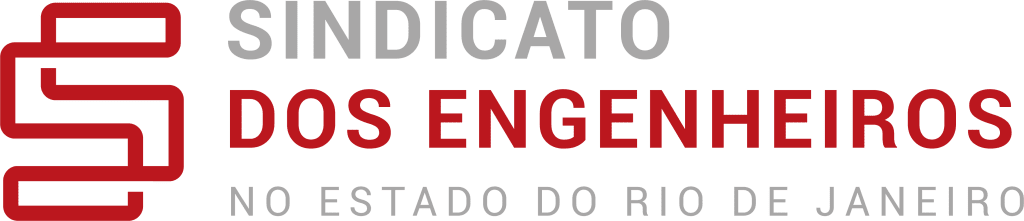Fábio Konder Comparato*
Empregamos a todo tempo a palavra crise para caracterizar o lamentável estado atual de nossa política e de nossa economia, sem entender a semântica original do vocábulo. Ele foi criado por Hipócrates, a partir do verbo grego krito, kritein, cujos sentidos principais no grego clássico eram de separar ou discernir, de um lado, e de julgar ou decidir, de outro. Para o Pai da Medicina, krisis designava o momento preciso em que o olhar justamente dito crítico do esculápio conseguia discernir o tipo de doença que acometia o paciente, permitindo-lhe fazer com precisão o diagnóstico e o prognóstico.
Infelizmente, temos sido incapazes de entender que sofremos de uma moléstia que não é passageira nem local. Muito pelo contrário, ela não surgiu nem tende a desaparecer de uma hora para outra no Brasil. Tampouco foi provocada por determinado partido, ou por este ou aquele político que ocupou ou ocupa atualmente o cargo de Chefe de Estado.
Analisemos, pois, em primeiro lugar, a moléstia no âmbito mundial, para, em seguida, procurarmos diagnosticá-la na sociedade brasileira, sugerindo afinal um tratamento adequado.
I
A Consolidação Mundial do Capitalismo Financeiro
A doença – séria e duradoura – cujos sintomas vieram agora à luz do dia, afeta na verdade o mundo inteiro e não pode ser tratada superficialmente; como se, diante de uma infecção generalizada, o tratamento do paciente se limitasse a ministrar analgésicos para reduzir as cefaleias.
Vivemos hoje – nós e todos os demais povos na face da Terra – as graves consequências da passagem histórica do capitalismo, como primeira civilização mundial da História, da sua fase industrial para a fase financeira (1). Se até o último quartel do século passado os empresários industriais comandavam a vida econômica, hoje são os bancos que ditam as regras, não só nessa área, mas também no campo político.
Em 2011, três matemáticos do Instituto Politécnico de Zurique, listaram os 50 maiores conglomerados empresariais do mundo. Desse total, 48 eram grupos financeiros (2).
Já foram identificados 28 bancos, que controlam atualmente os mercados mundiais de câmbio, juros e valores mobiliários (3). Até a generalização das políticas neoliberais nas últimas décadas do século XX, os bancos dependiam dos Estados, que fixavam as taxas de juros e de câmbio. Hoje, tais valores são fixados pelos próprios bancos operadores, que impõem suas decisões de mercado aos bancos centrais, doravante autônomos em relação aos governos.
Recentemente, uma ONG muito respeitada no mundo inteiro, a Global Policy Forum, afirmou em relatório que a ONU é manipulada por empresas transnacionais, algumas das quais violam abertamente direitos trabalhistas e normas ambientais.
Mas o neoliberalismo global foi ainda mais além no campo da desregulamentação da atividade financeira empresarial. A fim de conter os efeitos da depressão econômica que tomou conta do mundo inteiro com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, os Estados Unidos haviam editado em 1932/1933 o Glass-Steagal Act, que separou as atividades dos bancos de depósito das dos bancos de investimento. Pois bem, em 1999 aquela lei foi revogada nos Estados Unidos, sendo concomitantemente abolida, nos demais países do globo, a referida separação entre aquelas atividades bancárias. Com isto, voltou-se a permitir aos bancos a utilização dos depósitos monetários de seus clientes para negócios deles próprios, bancos, inclusive a especulação nos mercados de valores mobiliários, de câmbio ou de mercadorias.
Como sabido, a partir da Revolução Industrial em meados do século XVIII, a riqueza mundial cresceu em ritmo e intensidade jamais vistos na História. Esse crescimento, porém, vem recuando nitidamente no mundo todo, desde a segunda metade do século XX. Na China, o país de mais acelerado crescimento econômico das últimas décadas, a atividade industrial atingiu em 2015 o menor nível em 78 meses.
Os efeitos dessa desindustrialização geral já se sentem nitidamente no mercado de trabalho. Segundo relatório recente da OCDE – Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foram recenseados 47 milhões de desempregados nos 34 países que dela fazem parte.
É bem provável que se instaure desde logo, no mundo todo, uma fase de estagnação econômica generalizada, justamente devido à implantação mundial do capitalismo financeiro, em substituição ao capitalismo industrial. E a razão é óbvia: enquanto a essência da atividade industrial é a produção de bens, a atividade financeira por si mesma não produz nenhuma riqueza concreta de base.
Como se vê, a celebrada eficiência do sistema capitalista na produção de riqueza vê-se hoje totalmente desmentida. Com isso, a fantástica desigualdade social, por ele criada no mundo inteiro, já não tem a menor condição de ser reduzida, menos ainda eliminada. No início da Revolução Industrial, estimou-se que entre o povo mais rico e o mais pobre do planeta a diferença em termos econômicos era de 2 para 1; atualmente, ela é estimada em 80 para 1! Levando-se em conta o crescimento inexorável da população mundial e a estagnação geral da produção de bens, notadamente de alimentos, não é difícil visualizar o prognóstico sombrio de Malthus, feito no final do século XVIII. E as vítimas serão, como sempre, as camadas mais pobres do mundo todo.
Ora, o que se constatou recentemente é que o capitalismo financeiro tem contribuído para acelerar o ritmo dessa desigualdade. Assim é que o banco Crédit Suisse, ao publicar em 2010 o seu primeiro relatório sobre a riqueza global (Global Wealth Report), estimava que os 50% mais pobres da humanidade possuíam menos de 2% dos ativos mundiais. Pois bem, no relatório do corrente ano de 2015, o Crédit Suisse constatou que a metade mais pobre da humanidade possui menos de 1% da riqueza planetária.
Por incrível que pareça, se a grande depressão de 1929 provocou uma redução da desigualdade econômica mundial, tendo afetado todas as classes sociais, a crise de 2007/2008, da qual ainda não logramos sair, provocou um efeito contrário. Exemplo: nos EUA, o 1% mais rico da população absorveu 95% da riqueza produzida após a crise.
As instituições financeiras, como se disse, por si sós não produzem riqueza alguma. Na melhor das hipóteses, elas servem de alavanca auxiliar da produção, mediante o serviço de crédito.
Acontece que, no presente, os bancos passaram a concentrar cada vez mais suas atividades nos negócios puramente especulativos, reduzindo drasticamente o serviço de crédito. A lucratividade de tais negócios especulativos é muito maior. Mas, em compensação, eles suscitam um enorme risco de súbito e generalizado colapso, como se viu em 2008 com a brusca depreciação dos chamados derivativos, neologismo criado nos Estados Unidos para designar operações de crédito bancário, que servem de lastro à emissão de valores mobiliários em cascata, cujo valor não é contabilizado no balanço dos bancos. Estimou-se que em 2013 o valor total dos derivativos negociados no mercado mundial era de 710 trilhões de dólares; isto é, cerca de dez vezes o valor da produção anual de bens e serviços no mundo todo!
Outro fator que veio reforçar a generalizada submissão dos Estados, no mundo inteiro, à dominação dos bancos foi a progressiva substituição dos tributos pela dívida pública, no financiamento das despesas estatais. Os papeis dessa dívida, como não poderia deixar de ser, são tomados pelos bancos e repassados aos investidores privados. Para estes, tal operação financeira provocou de imediato um duplo e substancial benefício: de um lado, o não-aumento (ou mesmo a redução) da carga tributária; de outro, a oportunidade de ganhos suplementares pelo recebimento de juros da dívida pública. Em pouco tempo, os empresários industriais, que já haviam se deixado seduzir pela especulação com valores mobiliários, foram se transformando, total ou parcialmente, em rentistas.
A depressão global desencadeada em 2008 com o colapso do mercado de derivativos levou os bancos centrais dos Estados Unidos e da União Europeia, a fim de evitar as insolvências em cascata, a socorrer os bancos privados, tomadores daqueles papeis ditos “tóxicos”. Esse financiamento excepcional, como era de se esperar, não foi feito com recursos orçamentários, mas sim com a emissão de novos papeis da dívida pública. Para se ter uma ideia do que isso representa como risco de colapso do sistema econômico mundial, basta considerar os seguintes dados, recentemente divulgados pelo Fundo Monetário Internacional: o somatório da dívida pública dos Estados desenvolvidos do planeta, o qual em 2001 representava 75,8% da média do PIB total desses países, passou a corresponder em 2014 a 118,4% dele.
Inútil dizer que os tomadores de tais papeis de dívida fazem parte do sistema bancário privado, e que este exerce enorme pressão sobre os Estados emitentes, a fim de que os juros não sejam reduzidos e, sobretudo, para que os devedores públicos não deixem de honrar os valores do principal no vencimento.
Em suma, os Estados, que até o final do século XX eram reguladores das atividades dos bancos privados, tornaram-se atualmente seus reféns. O caso muito comentado da Grécia é o melhor exemplo. Feitas as contas, estima-se que os bancos alemães, tomadores dos papeis da dívida estatal grega desde 2010, obtiveram até 2015 um lucro de 100 bilhões de euros. Será ainda preciso explicar por que razão a Alemanha foi o Estado mais intransigente na negociação da dívida grega no Conselho da Europa?
Vale a pena salientar tais fatos, pois eles explicam a natureza e as perspectivas de solução da atual crise política e econômica brasileira, como reflexo da crise global. Encontramo-nos, hoje, inteiramente mergulhados no capitalismo financeiro, cuja dominação é mundial.
II
A Submissão do Brasil ao Capitalismo Financeiro Mundial
Em toda organização política, os principais fatores estruturantes sempre foram a relação de poder e a mentalidade coletiva, isto é, o conjunto de valores e costumes vigentes no seio do povo. Durante milênios, ambos esses fatores foram estritamente moldados pela religião. A partir do início da era moderna, porém, a adesão a uma fé religiosa foi perdendo importância na vida dos diferentes povos. Com o advento da sociedade massas, no final do século XIX, iniciou-se uma fase jamais vista na História, fase essa na qual a mentalidade coletiva passou a ser formada pelo sistema de poder político, de caráter não religioso na maior parte do mundo.
Com efeito, ao se consolidar mundialmente a civilização capitalista em fins do século passado, a relação íntima entre esses dois fatores estruturantes da organização política foi radicalmente alterada. Desde então, o poder político passou a plasmar a mentalidade coletiva, utilizando-se, para tanto, do controle dos meios de comunicação de massa, o qual é exercido hoje, na quase totalidade dos países do globo, por oligopólios empresariais.
Pois bem, entre nós, desde os primórdios da colonização portuguesa, o poder político efetivo – diferentemente do poder oficial, isto é, do poder legitimado pelo ordenamento jurídico – nunca pertenceu de fato, nem mesmo parcialmente, ao povo. Ele foi exercido, sem descontinuar, por dois grupos intimamente associados: os potentados econômicos privados e os grandes agentes estatais. Nossa oligarquia sempre apresentou, assim, um caráter binário: quem exerce o efetivo poder soberano não é apenas a burguesia empresarial, como sustentou a análise marxista, nem tampouco unicamente a burocracia estatal, como pretenderam os seguidores de Max Weber, a exemplo de Raymundo Faoro (4); mas ambos esses grupos, conjuntamente.
Esta, na verdade, a principal causa da corrupção endêmica que vigora no Brasil no plano estatal. Os grandes empresários e os principais agentes do Estado – incluídos agora nessa categoria os administradores de empresas estatais – sempre estiveram convencidos de que podem dispor, em proveito próprio, dos recursos financeiros públicos. “Nem um homem nesta terra é republico, nem zela e trata do bem comum, senão cada um do bem particular”, já afiançava o primeiro historiador do Brasil, Frei Vicente do Salvador, em livro editado originalmente em 1627 (5).
Essa oligarquia binária não é, na verdade, uma originalidade brasileira, mas sim um traço essencial do sistema capitalista. Como salientou Fernand Braudel, que lecionou na Universidade de São Paulo logo após a sua fundação, o capitalismo só triunfa quando se une ao Estado, quando é o Estado (6).
No curso de nossa História, tivemos uma sucessão de potentados econômicos privados, aliados aos principais agentes do Estado (inclusive magistrados): senhores de engenho; traficantes de escravos; grandes fazendeiros, sobretudo na região sudeste até a Revolução de 1930; empresários industriais; e, finalmente, controladores das grandes instituições financeiras.
Na verdade, o fato mais relevante da economia brasileira nas últimas décadas tem sido o ritmo acelerado do processo de desindustrialização. Para se ter uma ideia disto, é importante considerar que em 1995 a produção industrial representava 36% do PIB brasileiro, quando vinte anos após, segundo dados apurados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ela não ultrapassa 9%; ou seja, um quarto daquela cifra.
Com isso, como não poderia deixar de acontecer, iniciou-se em 2015 um período de recessão econômica cuja conclusão é difícil de prever-se, repetindo-se assim, certamente de maneira agravada, o episódio ocorrido em 1930 e 1931, como consequência da depressão mundial provocada pelo crash da Bolsa de Nova York em 1929.
Ainda como efeito da desindustrialização do país, o desemprego explodiu. Em julho de 2015, o total de desempregados no país somava 8,6 milhões, o número mais alto já assinalado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). E isto, considerando-se apenas os trabalhadores regulares, com carteira assinada.
Intimamente ligado a esse dado é o fato de que, atualmente, meio milhão de brasileiros vive sem cobertura de plano de saúde, como informou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Na verdade, o Brasil encontra-se hoje nas mãos dos banqueiros. Os cinco maiores bancos (Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander) controlam 86% do total dos ativos financeiros; quando em 1995 o montante desses ativos por eles controlados era de 56%. No primeiro semestre de 2015, enquanto o Produto Nacional Bruto entrava em recessão, o lucro líquido contábil dos quatro maiores bancos do país crescia 46% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O desinvestimento, tanto público quanto privado, é um dos piores resultados da entrega total da economia brasileira ao controle das instituições financeiras, nacionais e estrangeiras. Em 2014, o investimento de empresas estatais no Brasil foi o menor em três anos. Ora, o ajuste fiscal proposto pela Presidente Dilma Roussef em seu segundo mandato veio estender esse encolhimento ao vasto setor das políticas sociais. Assim é que o orçamento fiscal da União Federal para 2016, já em si mesmo profundamente austero nessa área, acabo, acabou sofrendo no curso de 2015 um corte de verbas em nada menos do que 7 programas sociais, notadamente educação e saúde: um bilhão de reais no primeiro setor e mais de um bilhão no segundo.
Em compensação, como é óbvio, o governo federal não mexe no volume da dívida pública, nem reduz a taxa da Selic (sistema especial de liquidação e custódia), ou seja, o índice pelo qual são balizados os juros cobradas pelos bancos. Ora, do total do déficit orçamentário da União Federal em 2015, 96,9% são representados pelos juros acumulados da dívida e apenas 3,1% pelo excesso de despesas primárias em relação aos créditos!
III
Sugestões para o Enfrentamento da Morbidez Generalizada
Diante de tudo o que se acaba de expor, surge inevitavelmente a indagação feita no livro publicado 1902 por um certo Vladimir Illich Ulianov, mais conhecido sob o pseudônimo de Lenin: – Que Fazer?
Comecemos por reconhecer o fato de que a solução revolucionária, por ele apresentada como a mudança súbita e radical do poder na sociedade, modelo ao mesmo tempo tão louvado e temido no mundo todo até há pouco, já não convence ninguém. É que esse tipo de ruptura brusca da ordem social não só absolutiza o poder estatal, como deforma gravemente a mentalidade coletiva, suprimindo a consciência individual e social dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Foi o que se viu, de maneira dramática, com as revoluções bolchevique e maoísta, as quais deram origem aos regimes comunistas na Rússia e na China no século XX. Aliás, com a derrocada de ambos no último quartel do século, voltaram à tona, nos dois países, as velhas tradições de autocracia burocrática, doravante ligadas à integral adoção do sistema capitalista, contra o qual foram feitas as revoluções.
Se quisermos, pois, iniciar o tratamento da moléstia que tomou conta da humanidade toda na época contemporânea – o capitalismo financeiro –, precisamos mudar de modo substancial e permanente as instituições de poder, bem como reformar a mentalidade coletiva, com base em novos valores que a elas se adequem. E tais valores, escusa dizer, são o oposto do individualismo privatista, próprio do capitalismo.
Ora, isto não se faz e nunca se fez da noite para o dia. Em geral, tem-se em matéria de revoluções o modelo clássico, que é o da França no século XVIII. Mas o que se deixa na sombra, ao assim considerar, é o fato de que a preparação da Revolução Francesa principiou pelo menos dois séculos antes, com a mudança na visão de mundo, provocada pela Reforma Calvinista e a chamada Revolução Científica de Copérnico, Tycho Brahe e Kepler, seguidos por Galileu e Isaac Newton.
Ensaiemos, pois, uma breve resposta, primeiro no plano mundial; depois, no quadro político e econômico brasileiro.
O tratamento da doença no plano mundial
A organização, ou melhor, desorganização do poder capitalista no mundo todo – não só o poder propriamente político, quanto o econômico, ambos complementados pelo poder ideológico – manifesta hoje sinais evidentes de impotência para enfrentar os problemas que se avolumam perigosamente, e que põem risco a sobrevivência da humanidade: o terrorismo, notadamente de índole religiosa; a destruição sistemática da biosfera; a probabilidade crescente de um colapso econômico mundial; entre outros.
Ao mesmo tempo, a ética própria do capitalismo, a qual logrou moldar a mentalidade coletiva contemporânea em todos os povos da Terra – a saber, a realização do interesse material como finalidade última da vida – não somente denota uma incapacidade crescente para fazer face a tais problemas, como revela-se ainda um perigoso estimulante deles.
Mas como proceder?
No tocante à organização do poder mundial, começamos a sentir crescentemente o mesmo estado de espírito, que tomou conta da maioria dos governantes logo após o término da Segunda Guerra Mundial, e que propiciou a fundação da Organização das Nações Unidas em 1945, conforme enunciado na introdução da Carta de São Francisco. Ou seja, a necessidade de “preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra […], reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e mulheres, assim como das nações grandes e pequenas […], promover o progresso social e melhores condições de vida, dentro de uma liberdade mais ampla”.
Para alcançar tais objetivos, o caminho a ser seguido só pode ser a construção de uma organização política mundial, fundada nos princípios fundamentais da República, da Democracia e do Estado de Direito. A saber: 1) a supremacia do bem comum da humanidade, em relação ao interesse próprio de qualquer povo em particular; 2) a atribuição da titularidade do poder supremo ao conjunto dos povos, reunidos em federação no plano mundial; 3) o estabelecimento de controles efetivos ao abuso de poder em todos os níveis, à luz do princípio supremo do respeito à dignidade humana.
No concernente à superação da ética do egoísmo dito esclarecido, própria da civilização capitalista, é alvissareiro constatar que, atualmente, os líderes de algumas das maiores religiões do mundo vêm sublinhando a necessidade de se evitar que o princípio fundamental do altruísmo, comum a todas elas, venha a ser ensombrecido pela repetição mecânica de asserções dogmáticas (7).
Em suma, importa agora mais do que nunca, no início deste novo milênio, revitalizar em todos os povos as duas Regras de Ouro, enunciadas pela primeira vez no chamado Período Axial da História (8), quais sejam: 1) não fazer aos outros o que não se quer que eles nos façam; 2) fazer o bem a todos, sem distinção de pessoas, sejam elas desconhecidas, amigas ou inimigas.
Como iniciar no Brasil o tratamento da doença
Para voltar ao conceito original de crise, excogitado por Hipócrates, o que importa não é fixar a atenção sobre o bom ou mau desempenho de nossos governantes para enfrentar os problemas socioeconômicos que se acumulam. Tal equivaleria a cuidar de um sintoma superficial da doença, sem diagnosticar sua verdadeira causa, que é a submissão do nosso país à soberania do capital financeiro, nacional e internacional.
Não é mister grande acuidade de espírito para perceber que esse enfrentamento equivale a percorrer um caminho longo e repleto de dificuldades de toda sorte. Ele não se faz da noite para o dia, nem com base em improvisações.
É indispensável e urgente atuar em duas frentes, intimamente relacionadas: a vida política e a vida econômica.
No campo político, as mudanças devem ocorrer em relação aos dois fatores fundamentalmente estruturantes: a relação de poder e a mentalidade coletiva.
O poder político, no Brasil, como acima salientado, sempre foi oligárquico, sendo exercido conjuntamente, em proveito próprio, pelos potentados econômicos privados e os grandes agentes estatais. Ora, atualmente, os titulares desse poder soberano acham-se na incapacidade absoluta de enfrentar a crise, pois são eles que as engendraram e são eles os únicos que dela se beneficiam. Seria ridículo esperar que as instituições financeiras aceitassem voluntariamente submeter-se ao poder regulatório do Estado, deixando que este voltasse a fixar as taxas de juros e câmbio a serem observadas no mercado, e a separar bancos de depósito e bancos de negócio, como dispôs o Glass-Steagall Act de 1933 nos Estados Unidos, editado em plena crise provocada pelo crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Urge encontrar um caminho para impor tais medidas aos atuais “donos do poder”.
No terreno propriamente político, é da mesma forma urgente começar a introduzir em nosso ordenamento jurídico os mecanismos institucionais da democracia direta. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular legislativa, declarados no art. 14 da Constituição como instrumentos da soberania popular, acham-se até o presente – mais de um quarto de século após a promulgação da Lei Maior – totalmente bloqueados pelo controle oligárquico.
Igualmente no campo político, permanece inquebrantável o oligopólio empresarial dos meios de comunicação social – grande imprensa, rádio e televisão –, utilizados como instrumentos do poder ideológico capitalista. A Constituição Federal, em seu art. 220, § 5º, declara que “os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”. Mas até hoje o Congresso Nacional não editou lei para regular essa proibição constitucional (9).
A mesma falta de regulação legislativa ocorre com a norma do art. 221, inciso I da Constituição, segundo a qual “a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão ao princípio de preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas”. Escusa frisar que, numa sociedade de massas como a existente atualmente no mundo inteiro, a intercomunicação do povo por intermédio dessas instituições, livre de censuras e propagandas ideológicas dissimuladas, é indispensável para que o regime democrático possa funcionar a contento; sobretudo em sociedades profundamente desiguais sob o aspecto socioeconômico, como a brasileira.
Em matéria propriamente econômica, assinalo algumas medidas que me parecem indispensáveis para enfrentar a crise atual.
Importa assim, antes de tudo, dar início ao processo de reindustrialização nacional, por meio de estímulos fiscais e econômicos.
Urge também regular o endividamento público. Assinalo, a esse respeito, que o art. 52, inciso VI da Constituição dispõe ser da competência privativa do Senado Federal a fixação dos limites globais do montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; mas sempre por proposta do Presidente da República. Inútil dizer que, submetidos à dominação bancária, nossos Chefes de Estado têm se revelado incapazes de atuar nessa área de acordo com os verdadeiros interesses nacionais.
Assinalo, ainda, que o art. 163, inciso III da Constituição determina competir à lei complementar dispor sobre a dívida pública externa e interna, nela incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público. Até hoje, tal lei não foi editada.
Eis, em resumo, o que me parece essencial para darmos início ao processo de mudança em profundidade de nossa vida política, econômica e social, no rumo de uma sucessão da vigente civilização capitalista, por uma civilização mundial realmente humanista.