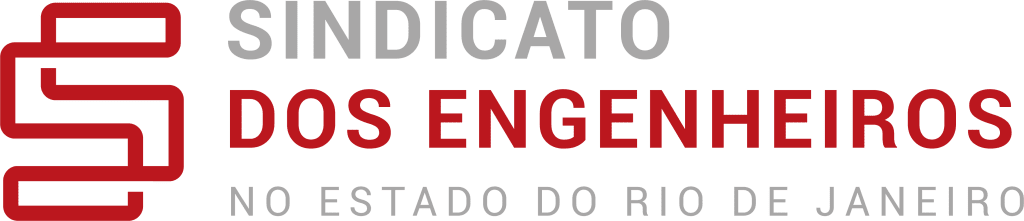O Brasil atravessou nos últimos anos um período de destruição. Bancos públicos foram descapitalizados, empresas estatais foram entregues ao mercado e a gestão e controle da política monetária está nas mãos do Banco Central. Um teto de gastos impedia o investimento público. Esses são desafios que marcam o início do terceiro mandato do presidente Lula, um cenário bastante diferente daquele de 2002, em seu primeiro mandato. “Vamos precisar encontrar correlações de força na sociedade para ir alargando as margens de possibilidades dentro dessa institucionalidade que é cada vez mais neoliberal, financista e adepta das desigualdades sociais”. A análise é de Juliane Furno, assessora especial da presidência do BNDES e professora adjunta de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Juliane aponta que é cada vez menor a capacidade de respiro para políticas públicas e que os avanços acontecem em pontos de tensão entre as forças que, após as eleições de 2022, seguiram mobilizadas. “O governo Lula soube utilizar a Lua de Mel política e sua bagagem de negociação em uma PEC da Transição que possibilitou o relaxo fiscal necessário para dar conta de questões emergenciais e que estão tendo impactos na economia, como o aumento no escopo do Bolsa Família, a recapitalização das universidades, o retorno dos programas sociais”, destaca.
Navegoundo entre as tensões, a economia brasileira cresce. Do golpe de 2016 para cá, o índice de crescimento era em torno de 1,5%. A expectativa é que neste ano ela cresça o dobro do padrão sobre as gestões neoliberais. “Os caminhos nos levam a navegar sobre essas tensões, principalmente privilegiando o emprego, a renda, as políticas sociais, a geração de postos de trabalho, a resolução do problema da fome, mas vamos esbarrar em problemas mais estruturais. Eles vão nos exigir mais ousadia, como retomar a capacidade de coordenação de setores energéticos, a capacidade de coordenar um programa vultoso de investimento público, inclusive para subsidiar a existência e o dinamismo do setor privado. A gente vive as melhores condições possíveis dentro de um sistema que nos cerceia brutalmente”, analisa.
Economia para transformar o país
Para entender de fato esse cenário e os desafios à frente, é preciso entender as bases da economia que, hoje, estão entre as principais pautas da sociedade civil.
Nem sempre foi assim. A partir das eleições de 2014, a economia, tema até então pouco explorado pelo debate público, ganhou destaque. Naquele período conturbado, que inaugurou uma década na qual teríamos que lidar com a crise, um golpe, a pandemia e uma não-política de 2018 a 2022, temas como o aborto, a corrupção e o próprio fazer político, passaram a dividir espaço com a economia. Esse novo debate econômico, no entanto, ganhou força crivado de consensos forjados a partir de concepções equivocadas de como ela funciona e para que serve.
A imprensa conservadora e políticos de direita adotavam o mesmo tom, unilateral, falando de uma economia que beirava ao misticismo, com ideias cristalizadas de certo e errado. Nasceu, nesse contexto, um esforço que uniu economistas em torno da construção de um material capaz de explicar à população em geral que, embora seja ciência, a economia é, sobretudo, política e, como tal, é passiva de todas as contradições da sociedade capitalista, como a sua utilização para atender interesses particulares.
“A partir daí, houve um conjunto de esforços, intensificados durante a pandemia, de utilizar as redes sociais e mídias alternativas para dar vazão a um tema que tem relevância nacional, mas que é tratado de forma unilateral. O que a gente queria era abrir o tema econômico para quem de fato precisa debater ele: não só os técnicos e economistas, mas a sociedade de forma geral. Estamos tratando de economia, que não é uma ciência neutra, isolada, mas que é parte das decisões fundamentais que afetam o nosso dia a dia. A gente quer que as pessoas participem do debate”, defende Juliane.
Informação e posicionamento
Convidada do Soberania em Debate de 19 de outubro, Juliane integrou os esforços que culminaram no curso Economia para a Transformação Social, da Fundação Perseu Abramo. “A ideia era debater economia socializando as ferramentas e categorias necessárias para que as pessoas se insiram no debate com qualidade, com rigor, compreendendo como funciona essa ciência específica. Não é só construir ferramentas para as pessoas se apropriarem do debate público, mas para que elas entendam que economia é sobretudo política. É uma análise didática com uma perspectiva crítica do capitalismo, do neoliberalismo, da exacerbação das desigualdades. Portanto, é um material didático que tem lado. É um material que se propõe a construir uma ofensiva na batalha das ideias”, destaca Juliane.
Foi desse esforço coletivo que nasceu o livro de Juliane: “Economia para a transformação social: pequeno manual para mudar o mundo”. O livro, que aborda aspectos teóricos e práticos da economia, traz no título a crítica à tendência homogeneizante dos manuais estudados nas universidades de economia, que apresentam correlações matemáticas que podem valer para a economia em determinados espaços, mas não significam nada em outros.
“O sistema capitalista internacional não é igualitário, não tem apenas diferenças pontuais. Há diferenças estruturais, como quem largou primeiro no processo de revolução industrial, quem foi colônia, que tipo de colônia foi, se foi possível o desenvolvimento de um mercado interno. Há uma série de elementos históricos e estruturais que marcam diferenças que, para serem rompidas, precisam de muita radicalidade”, destaca Juliane.
O livro traz um estudo próprio da economia brasileira: capitalista, e também subdesenvolvida, dependente, menos industrializada, que não gerou a estrutura de maior homogeneidade de consumo e produção que é característico dos países centrais. A obras considera o histórico colonial do país e a aderência ao sistema na era do capitalismo imperialista e monopolista. “Estas são particularidades que, se não consideradas, parece que as falhas se explicam por fatores culturais, psicológicos, geográficos, até racistas. As nossas opções estão circunscritas em uma estrutura”, conta a autora.
Capitalismo em seu estado natural
A impressão geral é de que vivemos tempos de um capitalismo mais selvagem, extremado. Desapareceram os direitos trabalhistas, a Carteira de Trabalho. Segundo Juliane, há um engano nessa ideia: “Tomamos como norma um período que, na verdade, foi a exceção. A história do capitalismo, é a de um sistema que não tem carteira de trabalho, que não tem direitos trabalhistas, que não tem concessões aos trabalhadores. O sistema precisou refrear tudo isso, mas por um período muito particular entre a primeira Guerra Mundial e a década de 1990. Isso, que a gente tomou como normal, na verdade, era uma exceção. E, agora, estamos voltando para a normalidade do capitalismo, que é um padrão de exploração sem precedentes da força de trabalho”, explica Furno.
Ela destaca que esse período, durante o qual o capitalismo conseguiu, em alguma medida, se domesticar, foi marcado por crises: a grande depressão na década de 1930 e duas Guerras Mundiais. “Posteriormente a isso, paralelo a um esforço de reconstrução, de tensão da Guerra Fria, que foi ocupando o capitalismo nos países centrais com suas próprias questões, foi sinalizado, a todo tempo, que havia uma alternativa: os países caracterizados pelo socialismo real. Esses países não viveram a crise de 29. Quando entraram na guerra, entraram para vencer. Embora os filmes tentem nos mostrar que os EUA ganharam a Segunda Guerra, sabemos que foi o Exército Vermelho que chegou a Berlim e libertou os campos de concentração. Portanto, há a existência de uma hegemonia compartilhada, de uma alternativa ao capitalismo. Foi importante para que o próprio capitalismo pudesse conter seus ímpetos mais degradantes e construir um conjunto de décadas em que, pelo menos nos países centrais, foi possível viver com menores desigualdades, com pleno emprego, com crescimento econômico. Só que esse período acabou”, destaca Furno.
Superar esse momento de retorno ao capitalismo despido de freios vai exigir forte mobilização social. Apoio e crítica, segundo Juliane, terão que andar juntos para “alargar o sarrafo muito baixo que o governo Bolsonaro nos deixou como herança”. O desafio está posto e precisa ser enfrentado para que seja possível ousar e construir de fato as condições para o estado de bem-estar social, com a economia crescendo, distribuindo renda, gerando emprego e diminuindo as desigualdades.
Texto: Rodrigo Mariano/Senge RJ
Foto: Imprensa SMetal/Reprodução BdF