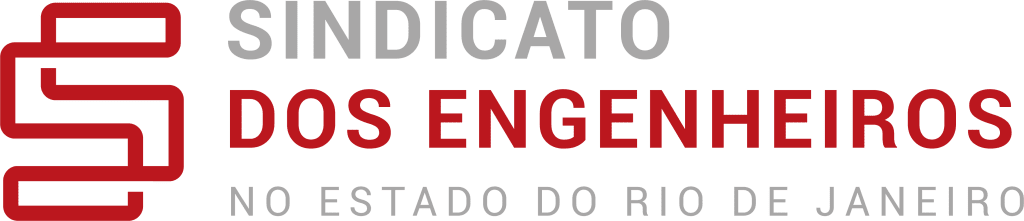Em homenagem ao dia da engenheira e do engenheiro (11/12), entrevistamos a engenheira civil Maria Elisabeth Marinho, de 76 anos. Beta, como é conhecida, foi a única mulher de seu curso de engenharia em 1962, resistiu à ditadura militar, contribuiu para o enfrentamento da seca no Nordeste, foi conselheira do Crea-PE e integrou a primeira Comissão de Mulheres do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (Confea). Hoje, ela, aposentada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), é diretora do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco (Senge-PE) e ainda trabalha na Câmara Municipal, no gabinete do vereador e engenheiro Jurandir Liberal, fazendo, principalmente, trabalho de mobilização com engenheiros. Sua história é de luta e combate às opressões. Confira.
Como surgiu a escolha pela engenharia?
Terminei o curso de engenharia civil na Universidade Federal da Paraíba no ano de 1962. Eu gostava de matemática e não queria ser professora, como minha mãe. Meu sonho era geologia, mas não tinha na região aquela época.
E sua família nessa época?
Minha família me deu todo apoio. Nasci em João Pessoa e era a única mulher do curso. Iniciei e terminei sozinha. Depois de formada, fui para o Recife fazer um curso sobre a hidrologia das secas. Quando saí de casa, tive que enfrentar meu pai, ainda mais em um período de ditadura militar no Brasil. Papai dizia: “Homem é que nem cachorro. Pode entrar e sair de qualquer canto. Mulher não”.
Como foi ser a única mulher estudante de engenharia?
A maioria dos colegas homens da universidade já estudavam comigo no Liceu Paraibano, me consideravam uma irmã. Não tive problemas grandes nesse período, ou pelo menos não os percebia. Por exemplo, no seminário da Fisenge sobre assédio moral, fui recordando e tendo uma percepção muito mais ampliada sobre este tipo de prática. Ao ingressar no mercado de trabalho, a situação mudou. Quando consegui emprego, meus colegas de escola perguntavam “sentou no colo de quem?” e, às vezes, eu chorava uma semana inteira por conta destas insinuações. Logo depois de formada, fui para o Recife – onde vivo até hoje – trabalhar na Sudene em um setor ligado às secas. Percebi que a concorrência e o mercado de trabalho eram cruéis. Sempre fui muito dedicada e empenhada, ganhei bolsas e conquistei cargos, e sempre ouvia piadas machistas e com insinuação sexual. Quando eu voltei de uma bolsa de estudos na França, depois de formada, ficou claro em uma conversa de elevador. Um dos homens me perguntou: “Como são os homens franceses?”.
Você se aposentou na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Como era a participação das mulheres?
Na época, os salários eram medidos pelos anos de estudo na universidade e sempre havia comentários a respeito do meu salário, garantido com muita dignidade e trabalho. O nordestino é muito machista, até mesmo por uma “cultura histórica da cana de açúcar”, numa lógica de opressão. As mulheres nordestinas, hoje, estão cada vez mais conscientes, mas a cultura da época era a do “foi Deus que mandou” ainda permanece na cabeça de muitos e muitas. Nesse sentido, a Sudene fez cursos de formação muito importantes e foi abrindo esse caminho de empoderamento da mulher. Hoje, a mulher é muito mais atuante que antigamente, quando os homens arranjavam dezenas de filhos e abandonavam as mulheres, que ficavam com todas as responsabilidades familiares. Em um dado momento, na Sudene, havia mais mulheres como técnicas do que em cargos de chefia.
Tanto a sua formação acadêmica, como o exercício profissional se deram em um período muito sombrio na história de nosso país, que é a ditadura militar. Como foi viver esse momento?
Não podíamos nos expor e nem falar muito. Tive muitos amigos presos. Tocava a campainha de casa já vinha o sobressalto. Papai também era do Partido Comunista. Eu participava do grupo Ação Popular em João Pessoa. Muita gente da engenharia, ligada à Ação Popular e à Ação Católica, morreu nesse período. Também já fui da Ação Católica, fiz curso de Paulo Freire para educar. Achávamos que o problema do país era a educação e até hoje ainda é a maior dificuldade. Ainda estudante, eu ia para um Congresso no Rio Grande do Sul e no dia da viagem eu tive uma crise de labirintite e não pude ir. Todos foram presos nesse dia e eu não fui por conta desse mal-estar. A maioria dos meus amigos de João Pessoa foram presos ou exilados. Decidi ir para Recife em 1963. Mesmo com os tempos sombrios da ditadura militar, nós, jovens, acreditávamos que o Brasil era da gente. E esta visão de mundo levamos para a Sudene.
A Sudene, uma superintendência estatal, sofreu com a intervenção militar?
Tínhamos gente da Ação Católica trabalhando na Superintendência e tentávamos interferir na linha política. Daí, muitos foram demitidos e presos e, aos poucos, foi mudando a linha da empresa e, cada vez mais, as pessoas ficavam mais caladas. Me lembro que nossos dois chefes eram um major e um tenente. Um dia, eu disse para um dos militares que estava indo para a reunião da Associação da Sudene. Ele me segurou pelo braço e disse: “Você vai para casa agora e só voltará quando eu mandar”. Quando saí da empresa, havia um carro me esperando, que me deixou na porta de casa e lá eu fiquei. Logo depois, eu soube que os militares haviam invadido a reunião da Associação e as lideranças presas. Por ironia, um militar me livrou da prisão. Nós, trabalhadores da Sudene, sofremos muito essa época e é importante destacar, nesse período, que a denúncia vinha de alguns de nossos colegas. Nunca sabíamos quem era e fomos “desmusando”, como Chico Buarque dizia. Até hoje, tenho receio de falar questões políticas ao telefone. Quando ganhei a bolsa de estudos na França, em 1968, quase não consegui sair do Brasil. Meu diretor me chamava de comunista e dizia: “Não vai sair, porque é subversiva”. Quando, finalmente, consegui sair do país, tive na França uma outra visão sobre o mundo e sobre o trabalho em si. No meu retorno, fui para um setor onde executava tarefas que não contemplavam minha recente formação. Percebi que o problema não era somente o clima, mas também a disposição e vontade política. Comecei a achar o trabalho burocrático e estatístico demais, principalmente depois de um ano de formação na França, com a compreensão da importância da formulação políticas públicas mais amplas, que incluía educação, agricultura, etc. Me convidaram para coordenar um encontro regional sobre o combate à seca e, graças ao meu histórico de mobilização na Ação Católica, consegui reunir mais de mil pessoas. Também fui conselheira do Crea-PE e participei da primeira Comissão de Mulheres do Confea.
Acompanhamos na mídia, o sofrimento da população com a seca do Nordeste. Como era naquela época? De que forma a seca pode ser enfrentada hoje?
Eu achava que o problema da seca era o clima, mas depois desse período na França, percebi que a questão era e é de natureza política. Eu trabalhava na Sudene e me botaram para fazer relatórios financeiros, distribuição de recursos e era um trabalho muito maçante. Percebi que o problema da seca é a falta de vontade política de Estado. Ainda é possível enfrentar a seca no Nordeste, uma das regiões mais pobres do país e que recebe menos recursos. Fizeram várias barragens para tentar resolver, mas não adianta. São necessárias políticas de agricultura familiar, saúde, educação, reforma agrária, enfim políticas mais amplas. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, já se falava sobre isso desde aquela época e eram contra, por conta do custo alto. No fim, saiu, mas os trabalhos não estão sendo concluídos devidamente, principalmente em relação às políticas públicas mais amplas. Compreendo que para as políticas públicas serem implementadas de fato, é necessário vontade política.
E hoje? O que mudou na visão de mundo?
Ando muito preocupada, porque o capital está sempre em primeiro lugar, e os pobres, como sempre, continuam vivendo de forma precária, principalmente no Nordeste. No meu entendimento, somos todos UM. E , portanto, o sofrimento do outro também é meu, assim qualquer ação engajada, no sentido de possibilitar uma mudança de vida para todos, está dentro de cada um de nós.