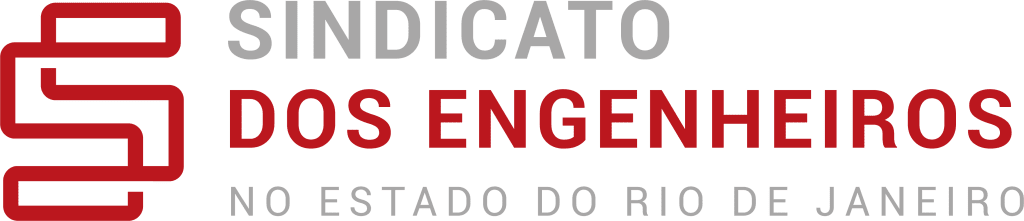Em 2008, a urbanista Raquel Rolnik assumiu a relatoria especial da Organização das Nações Unidas para o Direito à Moradia Adequada. Era um momento crucial.
Com a explosão da crise financeira e hipotecária, a política pública de subsídios para a compra de casas próprias, diretamente relacionada aos interesses do capital imobiliário, revelou sua fragilidade em diversos países.
A experiência de seis anos de Rolnik como relatora foi o ponto de partida para o livro Guerra dos Lugares, lançado em 9 de dezembro pela Editora Boitempo (424 págs., R$62).
Na entrevista a seguir, a urbanista da Universidade de São Paulo critica a adoção de um modelo único para as políticas habitacionais, analisa o impacto das Olímpiadas sobre a população do Rio de Janeiro e elogia a ocupação das escolas estaduais em São Paulo. “É o fato político mais importante da década.”
CartaCapital: Em seu novo livro, a senhora demonstra como a crise de 2008 tem forte relação com o abandono de políticas de moradia tradicionais, após a adoção da cartilha neoliberal nos países de Primeiro Mundo. Como a moradia passou de direito a ativo financeiro nas últimas décadas?
Raquel Rolnik: Desde os anos 1930, os Estados Unidos possuíam uma política para subsidiar a produção da casa própria e outra para a construção de conjuntos habitacionais, alugados para os setores da população com menor renda.
Havia uma grande quantidade de conjuntos bem localizados nas cidades. A partir da década de 1980, eles começam a decrescer, enquanto o financiamento hipotecário aumentava radicalmente. Uma das principais falácias do neoliberalismo é a defesa de que a questão da moradia não deve ser um problema do Estado.
O financiamento da casa própria previsto na cartilha neoliberal não diminui o gasto público, ao contrário. O modelo de crédito hipotecário serve para expandir o mercado financeiro internacional, não para atender às demandas habitacionais da população mais pobre e vulnerável.
CC: Sob esse ponto de vista, o Programa Minha Casa Minha Vida é insuficiente?
RR: É preciso combater a ideia de se trabalhar com um modelo único de política habitacional. Não sou contra famílias tomarem crédito e comprarem um produto da construtora, isso é positivo e deve ser uma opção. Essas políticas têm destruído, porém, outras opções.
Como pesquisadora do LabCidade, da USP, pude acompanhar uma pesquisa de avaliação do Minha Casa Minha Vida em 2013 e 2014. A primeira deficiência do programa é sua dificuldade em produzir moradias em regiões centrais. Geralmente são localizações muito periféricas, distantes das oportunidades de trabalho.
Além disso, o programa tem forte relação com a remoção de comunidades localizadas nos centros das grandes cidades. Há uma conexão entre as políticas massivas de produção de moradias e a abertura de frentes de extração para o complexo imobiliário financeiro, como é o caso de grandes projetos urbanos, como o do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e o da Cidade da Copa, no Recife.
CC: A senhora critica ainda o modelo de condomínio adotado no programa.
RR: Esse modelo pode servir para faixas com um pouco mais de renda, não para os mais vulneráveis. No Minha Casa, a família praticamente ganha uma residência do governo, pois é possível pagar as prestações mesmo com salários baixos. Mas ela terá de arcar com a gestão do condomínio, algo muito difícil para uma família da faixa 1, com renda de até 1,8 mil reais mensais.
Nesses conjuntos de casas populares, há deficiências de gestão e de manutenção. Para as famílias extremamente vulneráveis, tem de haver outras opções, entre elas programas de locação social, de assistência técnica para autoconstrução e de urbanização.
CC: Os movimentos de moradia estão reféns do modelo da casa própria?
RR: Sim. Eles costumam dizer: “É o que temos para hoje”, mas há um círculo vicioso. Como só há política de casa própria, o movimento só demanda unidades residenciais, e vice-versa. A situação habitacional não tem, contudo, melhorado.
Quando se incentiva cada vez mais o crescimento do crédito hipotecário, sem dispor de uma política fundiária que limite o poder absoluto do mercado imobiliário sobre a terra, há uma disparada no preço dos imóveis.
CC: O Rio de Janeiro tem enfrentado enorme especulação imobiliária por causa do projeto olímpico. Como a senhora analisa o impacto das obras sobre a população?
RR: O Rio de Janeiro apresentou um projeto urbano que inclui a Copa e as Olimpíadas. Por isso é a cidade onde a resistência contra os megaeventos foi mais forte. O projeto olímpico tem a cara do capital imobiliário. Estou no Rio, em Chicago ou em Dubai?
Tanto faz. São os produtos da linguagem internacional das finanças, e eles têm tomado o lugar da população. Há uma operação de limpeza no Centro da cidade.
CC: Por falar em resistência, como a senhora interpreta a ocupação dos estudantes nas escolas públicas estaduais de São Paulo?
RR: As ocupações são o fato político mais importante da década. Foi fundamental para romper a ideia até então muito recorrente na mídia de que a escola pública é uma porcaria, como se nada de bom acontecesse nela. O que o movimento mostrou é o vínculo dos estudantes com as suas escolas. Eles querem ficar naquele lugar e lutam para ele deixar de ser discriminado.
Isso nos dá uma esperança enorme. Há uma nova geração interessante, politizada e mobilizada. No Brasil, o espaço público é visto como propriedade privada dos políticos. E não é. As ruas, os equipamentos e as políticas são propriedades coletivas dos cidadãos. É isso que as meninas e os meninos têm demonstrado.